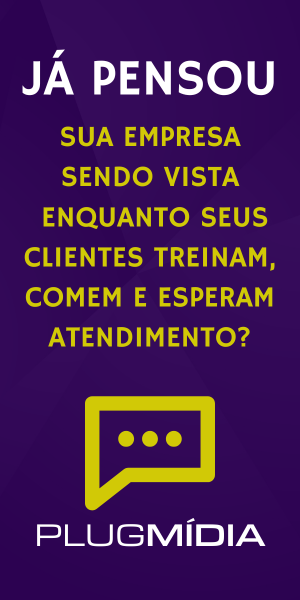Falar sobre economia brasileira é falar sobre trabalho. E, na história do país, esse trabalho tem sido profundamente ancorado pela contribuição do povo negro. Desde o século XVI, grande parte da riqueza construída no Brasil se apoiou no conhecimento, na técnica e na resistência africana e afrodescendente — muito além de qualquer noção simplificada de “força física”, povos negros eram conhecimento, e vida.
A historia mostra que os africanos trazidos à força tinham saberes agrícolas, metalúrgicos, arquitetônicos, artesanais e administrativos. No ciclo do açúcar, e mais tarde no ciclo da mineração, suas habilidades foram fundamentais para o funcionamento de toda a economia colonial. Nas cidades, trabalhadores negros eram essenciais em ofícios como ferraria, sapataria, artesanato, transporte e comércio de alimentos. Pois em uma epoca desse pais “trabalho” era considerado feio, e pouco digno. Então familias de escravizadores, investiam suas economias na compra de africanos, que faziam o papel de mantenedores do lar, executando o trabalho fora de casa, e entregando o dinheiro para o sustento de seu algoz, que nunca sairia de casa para desempenhar nenhuma profissão.
Após a abolição, em 1888, não houve qualquer política de integração. A população negra foi deixada à margem, sem terra, moradia, trabalho ou escola — uma desigualdade que se prolongou por gerações. A industrialização não alterou esse cenário: a mão de obra negra continuou concentrada nos trabalhos mais pesados e mal remunerados.
Hoje, segundo o IBGE, pessoas negras representam mais da metade da população brasileira e compõem massivamente a força de trabalho essencial do país — limpeza, transporte, construção civil, serviços domésticos e atividades rurais. Também são maioria entre os trabalhadores informais, que, apesar da vulnerabilidade eminente, pagam proporcionalmente mais impostos sobre consumo em comparação a outras camadas sociais.
Mas é preciso reconhecer que, apesar dos avanços recentes, o Brasil ainda está longe de oferecer condições igualitárias de respeito e cidadania. Dados oficiais e estudos acadêmicos demonstram que a população negra é:
– a que mais morre em operações policiais;
– a que menos tem acesso pleno à saúde, educação e segurança;
– a que mais sofre com encarceramento seletivo, muitas vezes por abordagens baseadas em estereótipos;
– a que mais enfrenta obstáculos estruturais para mobilidade social.
Essas desigualdades não são acidentais; fazem parte de um padrão historicamente construído. Reconhecer isso não significa dividir o país, mas compreender que o Brasil é atravessado por um racismo estrutural que ainda organiza oportunidades, riscos e acessos.
Ao mesmo tempo, é necessário mencionar um fenômeno social sensível: existem pessoas negras que, em busca de aceitação em espaços que historicamente as rejeitaram, acabam adotando discursos e práticas racistas e cerciatorias ,que reproduzem a mesma lógica de negação da identidade negra. Muitas vezes, buscam “se encaixar” apagando costumes, tradições e vínculos comunitários — um reflexo direto da pressão social para corresponder a padrões de embranquecimento, ainda presentes em diversos ambientes. Esse comportamento não é individual: é resultado da estrutura racista que molda expectativas sociais há séculos, e o os seres afetados por ele, marionetes captadas como lastro para o continuo projeto de apagamento da historia negra .
É importante lembrar também daqueles que resistiram e deixaram legado: Zumbi dos Palmares, Dandara, Aqualtune, Luiza Mahin, Luiz Gama, Tereza de Benguela, Maria Felipa, Besouro Mangangá, os Lanceiros Negros, os Irmãos Rebouças, Yia Nassô, entre tantos outros. São referências que ajudam a sustentar uma memória coletiva fundamental para a identidade nacional, e resgate pessoal de memorias afetivas e autoconhecimento do afrodescendente.
Os avanços recentes — como a Lei 10.639/2003, o Estatuto da Igualdade Racial, as políticas de cotas e a equiparação da injúria racial ao racismo — foram importantes e produziram impactos sociais. Em 2019, pretos e pardos se uma realidade nas universidades públicas. O número de pessoas negras com diploma superior multiplicou-se por cinco desde o ano 2000. Mas esses dados positivos não anulam o fato de que ainda há muito a ser construído. A desigualdade racial permanece como uma das marcas mais profundas do país.
Valorizar a história e a contribuição negra significa admitir que o Brasil deve enfrentar de maneira honesta e contínua as consequências de seu passado, e a realidade do presente. O 20 de Novembro é, portanto, uma data que não celebra dor, mas memória, presença, identidade e a necessidade permanente de construção de um país mais justo.
Que esse dia sirva para reflexão e para reafirmar o compromisso coletivo com um futuro onde a dignidade e o respeito não sejam privilégio de alguns, mas direito de todos.
Caro leitos, bom feriado e excelente reflexão.

REFERÊNCIA BIBLIOGRAFICA
GOMES, Laurentino. Escravidão: Do primeiro leilão de cativos em Portugal à morte de Zumbi dos Palmares. Vol. 1–3. Rio de Janeiro: Globo Livros, 2019–2023.
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo Demográfico 2022. Rio de Janeiro: IBGE, 2023. Disponível em: https://www.ibge.gov.br/. Acesso em: 20 nov. 2024.
IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Atlas da Violência. Brasília: IPEA; Fórum Brasileiro de Segurança Pública, edições anuais. Disponível em: https://www.ipea.gov.br/. Acesso em: 20 nov. 2024.
MOURA, Clóvis. Rebeliões da Senzala: Quilombos, Insurreições e Guerrilhas. São Paulo: Expressão Popular, 2019.
MUNANGA, Kabengele. Rediscutindo a Mestiçagem no Brasil: Identidade nacional versus identidade negra. Petrópolis: Vozes, 1999.
REIS, João José. Domingos Sodré: Um Sacerdote Africano. São Paulo: Companhia das Letras, 2008.
SCHWARCZ, Lilia Moritz; STARLING, Heloisa M. Brasil: Uma biografia. São Paulo: Companhia das Letras, 2015.
SCHWARCZ, Lilia Moritz. O espetáculo das raças: Cientistas, instituições e questão racial no Brasil, 1870–1930. São Paulo: Companhia das Letras, 1993.
FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA. Anuário Brasileiro de Segurança Pública. São Paulo: FBSP, edições anuais. Disponível em: https://forumseguranca.org.br/. Acesso em: 20 nov. 2024.
BRASIL. Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003. Altera a LDB para incluir o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/. Acesso em: 20 nov. 2024.
BRASIL. Lei nº 12.288, de 20 de julho de 2010. Institui o Estatuto da Igualdade Racial. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/. Acesso em: 20 nov. 2024.
BRASIL. Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012. Dispõe sobre o ingresso nas universidades federais (Lei de Cotas). Disponível em: https://www.planalto.gov.br/. Acesso em: 20 nov. 2024.