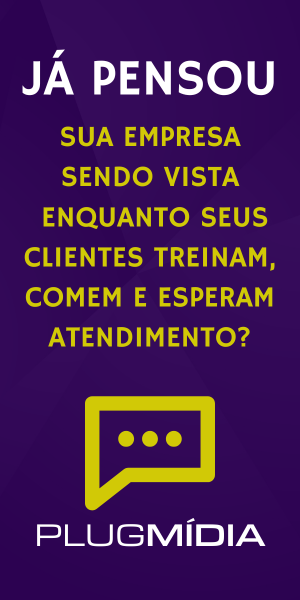A notícia começou em voz baixa, quase um sussurro atravessando a rua: “mataram o Orelha”. Em poucas horas, virou indignação. Orelha não tinha dono no papel, mas tinha muitos no afeto.
Era desses cães que aprendem o mapa da cidade pelos cheiros, reconhecem passos, e esperam mãos conhecidas com um pouco de água nos dias quentes. Orelha era um costume e, quando um costume é interrompido pela violência, ele deixa de ser rotina e vira pergunta.
A pergunta que ficou não é sentimental; é profundamente jurídica: como a morte cruel de um cachorro de rua pode ser, ao mesmo tempo, um fato corriqueiro nas cidades brasileiras e um crime de alta gravidade previsto em lei?
A resposta começa no reconhecimento de que animais não são coisas, pois a nossa atual Constituição Federal, em seu artigo 225, §1º, VII, proíbe práticas que submetam os animais à crueldade.
Assim, o que antes parecia apenas um mandamento ambiental ganhou densidade penal com a Lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605/1998), que tipifica os maus-tratos, e foi ainda mais reforçado pela Lei 14.064/2020, que aumentou significativamente a pena quando a vítima é cão ou gato.
Isso significa que a lei não pergunta se o animal tinha coleira, registro ou tutor formal. A proteção recai sobre o ser vivo, sobre a vedação da crueldade, sobre a dignidade mínima que deve existir na convivência entre humanos e animais, levando-nos à conclusão que Orelha não era invisível para a lei apenas porque era um cão de rua.
Por outro lado, ele era alimentado por comerciantes, recebia carinho de crianças, dormia sempre sob a mesma marquise, como quem já conhece o ritmo da cidade. Essa convivência cria algo curioso e muito humano: uma tutela coletiva do afeto, pois muitas pessoas se sentem responsáveis, mesmo sem serem, juridicamente, tutoras.
Entretanto, há uma outra responsabilidade que surge desse fato, menos comentada e igualmente importante: a do Poder Público. Cães comunitários e animais em situação de rua não são um erro da cidade, mas consequência previsível da ausência de políticas públicas consistentes de castração, controle populacional ético, vacinação, proteção e educação.
A morte do Orelha, nesse sentido, não é apenas a ação cruel de alguém, mas também o sintoma de uma omissão estrutural.
Há algo profundamente simbólico quando a violência atinge quem não tem voz. Orelha não denunciou, não gravou vídeos, não escreveu desabafos. Ele apenas confiava no território que percorria todos os dias.
Quando alguém rompe isso com brutalidade, não está ferindo apenas um animal, está testando o limite moral da comunidade e perguntando, em ato, até onde vai a nossa tolerância com a crueldade.
É justamente nesse ponto que o Direito entra. Não para substituir a compaixão, mas para impedir que a falta dela passe impune.
Muitas vezes se ouve a frase: “é apenas um cachorro”. Entretanto, essa tentativa de diminuir o fato revela exatamente o contrário, uma vez que ainda precisamos aprender que não é “apenas” nada quando há sofrimento evitável. A forma como tratamos os animais diz muito sobre o estágio civilizatório que alcançamos.
A lei já avançou nesse reconhecimento. A cultura e a sociedade, nem sempre!
Talvez por isso a morte do Orelha doa tanto, porque ela obriga a cidade a se olhar no espelho e cada um a se perguntar que tipo de convivência estamos construindo nos espaços que compartilhamos.
Depois que a indignação passa, fica a necessidade de denúncia, investigação e responsabilização; fica a cobrança por políticas públicas mais eficazes e, sobretudo, a memória de um cão que, sem saber, ensinou uma rua inteira sobre convivência, afeto e pertencimento.
Orelha não tinha CPF, mas tinha presença. Não tinha dono formal, mas tinha laços. E sua morte nos lembra que o Direito existe, também, para proteger aqueles que não podem pedir ajuda.