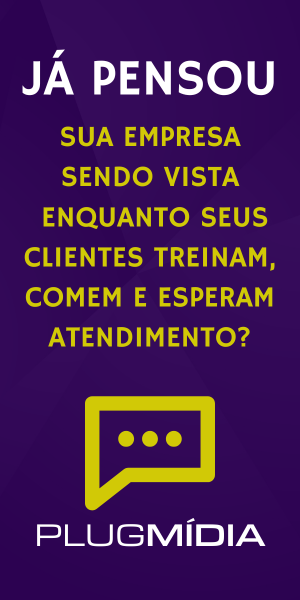O mundo está com os olhares voltados para Belém (PA), onde é realizada a COP30 (30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima). Embora a maior parte das discussões esteja centrada em temas de alcance nacional e continental, a cúpula também ressalta a importância dos debates locais e regionais sobre os impactos das mudanças climáticas.
De acordo com o geólogo Ronaldo Malheiros Figueira, o planeta tem sido cada vez mais afetado por eventos climáticos extremos nas últimas décadas. No Brasil, os reflexos são visíveis em deslizamentos de encostas, enchentes, estiagens, crises de abastecimento hídrico, além de vendavais e ondas de calor e frio.
“No interior de São Paulo não é diferente. São registrados eventos pontuais de enchentes, estiagens, vendavais e, com maior frequência, incêndios florestais decorrentes de ondas de calor intensas, ausência de chuvas e longos períodos de baixa umidade relativa do ar, que provocam o ressecamento dos solos e da vegetação”, explica o especialista.

Em longos períodos de seca, como em 2024 e neste ano, a Nova Alta Paulista registrou diversos incêndios florestais. Já nos períodos chuvosos, municípios da região sofrem com inundações, alagamentos, tempestades e vendavais, como ocorreu recentemente em Osvaldo Cruz, que teve quedas de árvores e casas destelhadas na noite desta terça-feira (4).
O monitoramento e a resposta a esses eventos extremos são desafios enfrentados pela maioria das cidades do país. É que aponta estudo divulgado nesta quinta-feira (6) pela CNM (Confederação Nacional de Municípios) sobre a estrutura da Defesa Civil Municipal. Segundo o levantamento, 95% das cidades brasileiras registraram perdas econômicas que somam R$ 732,2 bilhões entre 2013 e 2024, com mais de 70,3 mil decretos de Situação de Emergência ou Estado de Calamidade Pública e mais de 6 milhões de pessoas desalojadas.

“O fortalecimento das defesas civis locais exige articulação contínua entre União, Estados e Municípios, por meio de diálogos, conferências e pesquisas que orientem políticas eficazes de gestão de riscos. É urgente uma atuação federativa com apoio técnico e financeiro contínuo, de modo a fortalecer a gestão municipal de riscos e desastres”, ressaltou o presidente da CNM, Paulo Ziulkoski.
O diagnóstico também apontou que apenas 12% dos municípios possuem um órgão próprio de proteção e defesa civil vinculado a uma secretaria específica. Cerca de 49% acumulam a função em outros setores da administração pública, e 32% mantêm a estrutura diretamente ligada ao gabinete do prefeito.

“Essas informações ajudam a compreender a desassistência da gestão municipal, com políticas públicas de prevenção insuficientes e, quando existentes, ainda pouco efetivas”, destacou Ziulkoski.
Diante desse cenário de mudanças climáticas e da necessidade de fortalecer políticas públicas locais, o IMPACTO conversou com o geólogo Ronaldo Malheiros Figueira, que apresenta um panorama dos desafios enfrentados por pequenas cidades, como as da Nova Alta Paulista, diante dos eventos extremos.
Confira a entrevista:

IMPACTO: Como eventos como secas prolongadas, enchentes e ondas de calor têm afetado a rotina e a economia das pequenas cidades?
Ronaldo Figueira: Pelo histórico, frequência e magnitude da ocorrência desses eventos, que, aliados à vulnerabilidade das cidades e, na sua maioria, à ausência de políticas públicas eficazes e permanentes de Proteção e Defesa Civil, os impactos sobre as populações são inevitáveis e podem comprometer a mobilidade, a habitabilidade, questões de saúde e outros serviços públicos que podem atingir porções do território ou da cidade como um todo. Esses cenários, além de comprometer a rotina, demandam recursos financeiros necessários e relacionados ao atendimento humanitário e à recuperação das áreas afetadas.
Por outro lado, a Lei Federal nº 12.608/2012, que institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, dentro dos entes federativos, atribui aos municípios uma série de competências, estratégias, diretrizes e instrumentos técnico-operacionais para a implantação das respectivas Políticas Municipais de Proteção e Defesa Civil. Destacamos as estruturas de sua governança e a elaboração e desenvolvimento do Plano Municipal de Gestão de Riscos de Desastres. Esse plano, depois de implantado, deve ter caráter permanente e priorizar ações de prevenção, preparação, mitigação, resposta e recuperação, além de medidas de adaptação que proporcionem a esses municípios maior resiliência a esses eventos e menores impactos na rotina e, consequentemente, em sua economia.
IMPACTO: Quais são os principais desafios enfrentados por municípios de pequeno porte, como os da Nova Alta Paulista, para se preparar diante das mudanças climáticas?
Ronaldo Figueira: Independentemente da realidade das mudanças climáticas, a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil cobra dos municípios, seja qual for o seu porte, a implantação dessa política em nível municipal, o que não se trata de um desafio, mas sim do cumprimento dos preceitos legais dessa política. Os gestores municipais devem entender que consolidar essa política requer, dentro dos respectivos municípios, a adoção de uma governança de riscos de desastres que, de acordo com a Lei Federal nº 12.608/2012, deve integrar-se às políticas de ordenamento territorial, desenvolvimento urbano, saúde, meio ambiente, mudanças climáticas, gestão de recursos hídricos, geologia, infraestrutura, educação, ciência e tecnologia e às demais políticas setoriais, tendo em vista a promoção do desenvolvimento sustentável, além de integrar a participação da sociedade civil.
Destacamos, nesse desafio e salvo algumas exceções, que a governança da gestão de riscos de desastres deve estar situada dentro da estrutura da administração municipal, em uma posição estratégica e com empoderamento para articular as diversas pastas da administração municipal, sendo a Defesa Civil parte desse processo e tendo como instrumento norteador dessa governança o Plano Municipal de Gestão de Riscos de Desastres.
Independentemente das motivações deflagradas pela necessidade de enfrentamento das mudanças climáticas, os gestores municipais, quando adotam e organizam seus municípios dentro dos aspectos preconizados anteriormente e exigidos pela legislação, têm que estabelecer essa governança para atender todas as tipologias de riscos, não somente as relacionadas às questões climáticas ou meteorológicas, mas também os riscos tecnológicos. Essa tipologia está vinculada à probabilidade de ocorrência de vazamentos, explosões, incêndios e outros eventos que impactam o meio ambiente e podem atingir a comunidade instalada no entorno ou vulnerável a eles.
IMPACTO: A falta de estrutura técnica e recursos financeiros limita a capacidade de resposta das prefeituras? Como superar esse obstáculo?
Ronaldo Figueira: Com certeza, é um dos limitadores, pois, para a implantação e o desenvolvimento da Política Municipal de Proteção e Defesa Civil em todas as suas fases, é imprescindível a existência, no município, de uma estrutura técnico-operacional mínima e de uma dotação orçamentária existente em cada pasta da administração pública que possibilite a execução das respectivas ações dentro do Plano Municipal de Gestão de Riscos de Desastres.
Por outro lado, de nada vale um município possuir uma estrutura técnico-operacional adequada e dotação orçamentária suficiente para as demandas de rotina e de custeio de situações de resposta se ele não tiver sua Política Municipal de Proteção e Defesa Civil implantada e adequada à Lei Federal nº 12.608/2012, uma governança permanente que garanta a execução dessa política e um Plano Municipal de Gestão de Riscos de Desastres que dê condições e capacidade ao município de atender às fases de prevenção, preparação, mitigação, resposta e recuperação, além de medidas de adaptação.
IMPACTO: Que papel a cooperação entre municípios e consórcios regionais pode desempenhar nesse processo?
Ronaldo Figueira: A PNPDC (Política Nacional de Proteção e Defesa Civil) tem como uma de suas diretrizes a atuação articulada entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios para a redução de desastres e o apoio às comunidades atingidas, com competências bem definidas, em que o grande agente executor dessa política é o município.
Tomando como premissa a questão territorial e de regionalização, outra diretriz estabelece a adoção da bacia hidrográfica como unidade territorial para a gestão dos riscos de desastres relacionados às inundações e enchentes, em detrimento dos limites políticos dos municípios.
Diante dessas diretrizes estabelecidas na PNPDC, o estabelecimento de outras unidades territoriais, seja integrando municípios dentro das unidades administrativas regionais estabelecidas pelo Estado, dos Comitês de Bacia Hidrográfica e respectivas Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos, dos consórcios intermunicipais e das Coordenadorias Regionais de Proteção e Defesa Civil, constitui uma estratégia importante para o estabelecimento de uma Governança Regional da Gestão de Riscos de Desastres, uma vez que a maioria das tipologias de riscos extrapola os limites municipais.
Somado a isso, essa governança regional permite a integração dos municípios dentro de um cenário que fortalece a visão sistêmica, outra diretriz da PNPDC, além da uniformização do grau de envolvimento dos municípios, a padronização dos procedimentos técnico-operacionais necessários e a possibilidade de implantação de um Plano Regional de Governança da Gestão de Riscos de Desastres, que contemplará, entre outros programas, o atendimento e manejo de desastres com protocolos regionais de ajuda mútua entre os municípios no caso de um evento de grande magnitude.
IMPACTO: Como o Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil pode auxiliar os municípios a prevenir e responder melhor a desastres naturais?
Ronaldo Figueira: O Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil constitui uma das competências da União e uma das ferramentas e estratégias para a execução dessa política em todos os entes federativos, especialmente nos municípios, e tem seus princípios, diretrizes e objetivos estabelecidos pelo Decreto Federal nº 12.652, de 7 de outubro de 2025. Em linhas gerais, esse plano norteará a implementação da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, de forma integrada e coordenada, conforme discutido anteriormente.
Com relação ao fortalecimento e eficiência dos municípios, esse Plano Nacional terá papel fundamental, uma vez que atribui à Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, órgão central do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, a responsabilidade de apoiar os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, individual ou regionalmente, na elaboração dos respectivos planos de proteção e defesa civil, contemplando ações de prevenção, preparação, mitigação, resposta e recuperação, seja dentro dos planos municipais ou regionais de gestão de riscos de desastres.
IMPACTO: Que tipo de ações locais pode ser implementado para reduzir riscos, por exemplo, no uso do solo, drenagem urbana ou preservação ambiental?
Ronaldo Figueira: Dentro do município, as ações locais a serem implementadas na redução dos riscos de desastres devem primar pela visão sistêmica e integradora de todas as políticas públicas e respectivos instrumentos. Dentre as políticas setoriais, destacam-se: ordenamento territorial; desenvolvimento urbano (Plano Diretor, Carta Geotécnica, Mapas de Riscos); meio ambiente (licenciamento, controle ambiental e conservação/preservação); mudanças climáticas (Plano Municipal de Ação Climática); gestão de recursos hídricos (Planos Regionais de Bacias Hidrográficas e Planos de Drenagem); educação (Educação e Comunicação de Riscos); infraestrutura (ações estruturais – obras e estruturas de adaptação às mudanças climáticas); ciência e tecnologia (sistemas de monitoramento hidrometeorológico e sistemas de alerta), além de outras ações das demais pastas voltadas à gestão dos riscos de desastres e à promoção do desenvolvimento sustentável.
IMPACTO: Qual a importância de integrar o tema climático ao planejamento urbano e às políticas de desenvolvimento regional?
Ronaldo Figueira: Essa integração é de extrema importância para a efetivação da governança climática e dos riscos de desastres e também uma exigência legal da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil desde 2012, com a promulgação da Lei Federal nº 12.608/2012.
Diante do cenário e das perspectivas futuras dos impactos decorrentes das mudanças climáticas, com destaque para os extremos, todo o processo de elaboração e atualização dos instrumentos de planejamento urbano (Plano Diretor, legislação de controle de uso e ocupação do solo, Regularização Fundiária Urbana) deve, cada vez mais, considerar e incorporar todas as informações sobre os aspectos climáticos e seu comportamento frente às características fisiográficas do território, processo de ocupação, vulnerabilidades sociais e outros aspectos.
Assim, esses instrumentos tradicionais de planejamento urbano devem priorizar, em sua concepção, aspectos de mitigação e adaptação às mudanças climáticas e estar integrados ao Plano de Ação Climática dos Municípios, dentro da Política Nacional sobre Mudança do Clima.
IMPACTO: Como a população pode contribuir para tornar as comunidades mais resilientes às mudanças climáticas?
Ronaldo Figueira: A população tem um papel fundamental e de extrema importância na construção do processo de governança de riscos de desastres e no aumento da resiliência climática de um município. A participação da sociedade civil constitui uma das diretrizes da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, mas só tem resultado e é qualificada quando o poder público possibilita, fomenta e consolida essa participação no processo de elaboração e implantação dos Planos Municipais de Gestão de Riscos de Desastres.
Em cada programa desse plano, a sociedade civil tem seu lugar de destaque, seja nas ações da fase de prevenção, por meio do fomento e organização, nas áreas de risco, dos Núcleos de Proteção e Defesa Civil e dos Programas de Defesa Civil na Escola, seja nas fases de preparação e resposta, com a capacitação das comunidades e sua integração nas ações de atendimento humanitário e manejo de desastres.
Outro aspecto importante a ser considerado na participação e contribuição da sociedade civil diz respeito ao caráter permanente que essas ações devem ter, uma vez que qualquer descontinuidade, muito comum nas mudanças de gestão nos municípios, pode pôr a perder todo o processo de fomento, organização e participação dessa população.
IMPACTO: De que forma a COP30 pode impulsionar o debate e as ações climáticas nos municípios brasileiros?
Ronaldo Figueira: A COP reúne representantes dos países e territórios signatários da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima e constitui um processo político e uma instância mundial de negociação sobre as mudanças climáticas e seus impactos para o planeta, sendo de extrema importância para a definição de políticas e ações positivas e efetivas no enfrentamento dos impactos das mudanças climáticas.
Anteriormente às COPs, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, também conhecida como ‘Cúpula da Terra’, ‘ECO-92’ ou ‘Rio-92’, foi marcada como uma das conferências ambientais internacionais mais importantes e efetivas organizadas pela Organização das Nações Unidas. Ela consolidou o conceito de “desenvolvimento sustentável”, instituiu a Agenda 21 e teve como lema “pensar globalmente, agir localmente”.
Tomando como referência os aspectos históricos desses movimentos, a realização da COP30 em Belém (PA) é de extrema importância para a participação dos municípios no debate e nas ações de mitigação e adaptação às mudanças climáticas, além da busca pela justiça climática.
Esse cenário demonstra, para muitos gestores municipais, uma aparente distância entre as ações locais e as políticas globais. No entanto, ganha “eco”, importância e inclusão dos municípios quando se resgata o lema da ECO-92: “pensar globalmente, agir localmente”.
Nesse contexto e sob uma visão sistêmica, discutir mudanças climáticas tem, na escala do município, a aplicação e os reflexos positivos das ações e resultados da COP30, quando estes são incorporados e adaptados, na medida do possível, à gestão dos respectivos municípios, fundamentada e estruturada a partir de um processo participativo de discussão e consolidação dessas políticas, com destaque para a participação da sociedade civil.
RONALDO MALHEIROS FIGUEIRA
Geólogo e mestre pelo Instituto de Geociências da USP. Licenciado em Geografia pelo Centro Universitário Claretiano. Geólogo aposentado da Prefeitura do Município de São Paulo (1991–2022). Ex-conselheiro do Crea-SP e atual conselheiro federal suplente do Confea (Conselho Federal de Engenharia e Agronomia) para o mandato 2024–2026. Membro da Diretoria do Sindicato dos Geólogos no Estado de São Paulo (SIGESP) desde 1989 e da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Osasco (AEAO) para o biênio 2024–2026. Professor do curso de Pós-graduação em Gestão de Desastres e Riscos – Proteção e Defesa Civil, do Grupo Ecossistema Ânima.